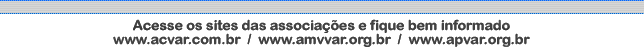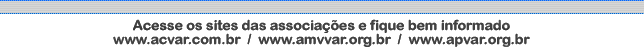| |
Revista
Consultor Jurídico
25 de novembro de 2006
Sucessão barrada
Nova Varig não herda dívidas
trabalhistas, diz juiz
por Aline Pinheiro
Ao
contrário do que defendem as associações
de juízes trabalhistas, o juiz Edilton Meireles,
da 34ª Vara do Trabalho de Salvador, decidiu que não
há sucessão trabalhista na recuperação
judicial da Varig.
A
sucessão das dívidas trabalhistas se tornou
alvo de entendimentos contraditórios depois de publicada
a nova Lei de Falências, Lei 11.101/05. O artigo 141,
inciso II, diz: "Na alienação conjunta
ou separada de ativos, inclusive de empresa ou de suas filiais,
promovida sob qualquer das modalidades de que trata esse
artigo, o objeto da alienação estará
livre de qualquer ônus e não haverá
sucessão do arrematante nas obrigações
do devedor, inclusive as de natureza tributária,
as derivadas da legislação do trabalho e as
decorrentes de acidentes de trabalho". Antes, a sucessão
era inevitável.
Hoje,
por enquanto, não há jurisprudência
sobre os casos em que há e os que não há
sucessão das dívidas trabalhistas. A nova
regra ainda é muito. Para o juiz Edilton Meireles,
no caso da Varig, a nova proprietária não
herda as dívidas com ex-funcionários. Ele
entende que a lei criou um contexto que garante ao novo
comprador da empresa em recuperação judicial
a não sucessão dos débitos.
A
decisão do juiz Edilton Meireles não leva
em conta posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
No dia 10 de novembro, o ministro Ari Pargendler proibiu,
liminarmente, a Justiça do Trabalho de processar
ações de ex-funcionários da Varig.
A liminar foi pedida pela empresa, que quer que seja declarada
a competência da Justiça Estadual do Rio de
Janeiro.
Vale
lembrar que o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial
do Rio de Janeiro, responsável pelo processo de recuperação
judicial da Varig, também defende a não sucessão
dos débitos trabalhistas.
Aeroconsult
27/11/2006
RISCO E RECEIO NOS CÉUS
São
chamados de quase-acidentes e estariam ocorrendo nos céus
brasileiros com alguma freqüência, apesar de
não serem divulgados oficialmente. Segundo informações
da TV Globo e da revista Época, publicadas também
em vários jornais, só neste 2006 se teriam
verificado 22 dessas quase-colisões, das quais três
no mês de outubro. A última viu um Fokker-100
da Tam e um Boeing da Gol passarem a 60,96 metros um do
outro, quando a distância mínima recomendada
é de 300 metros. Em 2005, segundo relatório
atribuído a um departamento do Comando da Aeronáutica,
esses acidentes potenciais foram 80 e desde 1998 os riscos
de choque no ar teriam totalizado 805.
A
vasta área amazônica, sob controle da torre
Cindacta-1, pela vastidão da região, a parcial
insuficiência de cobertura entre Brasília e
Manaus e a intensidade do tráfego aéreo, seria
– em circunstâncias propícias, quando
tudo ocorre em frações de minutos - a de maior
risco potencial. Declarações de controladores
estimam que em uma área de cerca de 70 milhas exista
uma “zona cega, surda e muda”. Somente o ministro
responsável não sabia disso, quando rebateu
as críticas do jornalista americano que havia levantado
a questão no artigo escrito no The New York Times,
depois de ter passado pela emoção de sobreviver
a bordo do Legacy na colisão com o Boeing da Gol.
Foram necessários cerca de 50 dias para que as autoridades
responsáveis admitissem essa realidade, atribuindo
as falhas de comunicação a motivos estruturais
ou técnicos. E foi necessária a crescente
pressão da opinião pública e das famílias
das vítimas da colisão para que na quarta-feira,
numa audiência pública no Senado, o ministro
da Defesa e o comandante da Aeronáutica admitissem
que “erros do controle do tráfego aéreo,
cometidos pela torre e não corrigidos (como deveriam
ter sido) pelos pilotos americanos, podem ter causado o
choque” entre o Legacy e o Boeing.
Mas
a este ponto do ainda complicado relatório dos acontecimentos
de 29 de setembro, o problema maior não está
em determinar quem foi o maior responsável pelo desastre,
mas sim na identificação das causas humanas
e técnicas que ao se juntarem provocaram a morte
de 154 inocentes.
O
impacto e a crueldade da tragédia têm provocado,
além do luto, reações inesperadas,
esclarecedoras de uma situação que em outras
circunstâncias e com freqüência assustadora
poderiam ter vitimados centenas de outros passageiros nas
aerovias congestionadas da floresta amazônica. Uma
área de perigo revelada publicamente pela colisão
entre o Boeing e o Legacy, que pelo seu potencial de riscos
poderia ser considerada uma versão tupiniquim domesticada
do Triângulo das Bermudas, as celebradas ilhas onde
há décadas desapareciam viajantes nas águas
profundas do Oceano Atlântico.
Causa
espanto só pensar nas 22 “quase colisões”
deste ano e nas centenas de outras que milagrosamente não
aconteceram. E o espanto causa arrepios ao imaginar que,
num desses vôos, poderíamos estar acomodados
com nossos companheiros de viagem na cabine da aeronave
que passou pelo risco de um “quase acidente”
: talvez duas centenas de pessoas, pensando em tudo, menos
que na eventualidade de precipitar de repente de 10 mil
metros de altitude devido à colisão com outro
avião.
Nos,
veteranos de vôos realizados a bordo de aviões
de todo tipo, desde os DC-3 que ligavam Rio a São
Paulo, aos aclamados Boeing 707 e depois à sempre
mais numerosa família de jatos de dois, três
e quatros reatores, sabíamos que a fase de decolagem
da aeronave era considerada delicada, devido ao enorme empuxo
exigido para levantar da pista um aparelho pesando um número
absurdo de toneladas. Nos falavam também que as turbulências,
além de desagradáveis pelos vácuos
de ar, era melhor que fossem evitadas e que, para isso,
os radares a bordo tinham a sabedoria de indicar aos pilotos
o caminho certo do mapa aéreo que passaria ao largo
dos temidos cumulus nimbus. Deviam, ainda, ser temidos os
imprevistos da aterrissagem, causados pelo estouro de alguns
pneus, pela pista molhada ou geada, pela sinalização
imperfeita ou pela sempre menos provável imperícia
do piloto. E as estatísticas diziam, e ainda dizem,
que é mais fácil morrer a bordo de nosso carro
de estimação, numa rodovia ou até numa
estrada urbana, por culpa da imprudência pessoal ou
de outro motorista, do que viajando de avião a 10
mil metros de altitude, atravessando montanhas e oceanos,
voando por 10 ou mais horas seguidas. A aviação
comercial demonstrou ser tão confiável que
até os viajantes mais sensíveis aprenderam
a voar sem tensões.
Até
aquele fatídico 11 de setembro de 2001, que foi o
dia em que um grupo de terroristas seqüestrou quatro
aviões americanos e os destruiu utilizando três
como armas e fazendo precipitar o quarto quando estava a
caminho da Casa Branca. Depois desses acontecimentos, viajar
por via aérea ficou mais complicado, mas não
houve aumento de riscos, devido aos controles impostos aos
passageiros antes do embarque, em particular nos EUA. Aliás,
esses controles sempre mais sofisticados repassavam aos
passageiros quase a certeza de que, pelo menos a bordo,
não encontrariam surpresas desagradáveis.
Assim,
em cinco anos o tráfego aéreo cresceu no mundo
inteiro e ninguém se preocupava com os céus
lotados, pois se o céu é o limite, o espaço
disponível era quase infinito. Em termos, pois crescia
a necessidade de controles sempre mais precisos, como se
deduzia olhando aqueles mapas projetados nos telões
dos Centros de Controles, que indicavam o movimento paralelo
de dezenas ou de centenas de aeronaves. Para isso havia
técnicos, supervisores, sistemas eficientes de comunicação
operando dia e noite, trocando informações
em inglês, recebendo ou dando instruções,
facilitando pousos e decolagens. Mas para tudo existem exceções.
Uma delas foi assinalada no Brasil, numa área de
cerca de 70 milhas, localizada na imensa floresta amazônica,
onde existiria uma zona “cega, surda e muda”,
entre outras em melhores condições, na qual
uma aeronave com problemas poderia perder o rumo certo ou
até colidir se, por um jogo do destino, sua rota
cruzar com aquela de outra.
O
perigo, para o futuro da indústria de transportes
aéreos é que esse receio tome conta dos usuários,
que poderão optar por viajar menos nas maravilhosas
máquinas voadoras, visto que elas estão carecendo
da proteção necessária, indispensável
para que um ser humano que não seja Dédalo
se disponha a aceitar o risco de desaparecer no ar.
|